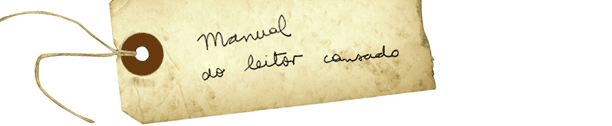E depois esse homem “do diálogo” era um homem do monólogo, como todos os grandes espíritos; digamos com rigor: do monólogo dialogado. Para que uma palavra o tocasse, era preciso que fosse pronunciada por alguém que tivesse engajado toda a sua existência para demonstrar seu valor pela prática. Então ele pesava os prós e os contras. Não se teria rendido, mas se teria deixado abalar. Um diálogo interior teria nascido e o levaria a uma conclusão firme, senão matizada. Ele não era inacessível, como pareci dizer ao chamá-lo de irredutível. Era necessário para atingi-lo que ele percebesse em seu interlocutor uma certa força íntima vinda de uma convicção inabalável. Eis porque seu melhor amigo não conseguiria ter uma conversa séria com ele sobre certos problemas muito importantes se Camus não tivesse sentido em suas palavras ou em suas ideias essa solidez que o teria ao menos feito refletir. E ele era muito perspicaz. Disse-me um dia: “Sei, pelo seu tom, aquilo em que você acredita e aquilo em que você não acredita”.
 guilherme
guilherme
76
Alice nunca pôde saber direito, quando pensou mais tarde, como é que isso tinha começado: tudo que ela se lembrou é que as duas estavam correndo de mãos dadas, e a Rainha era tão veloz que tudo que ela podia fazer era tentar acompanhá-la. Mesmo assim, a Rainha não se cansava de gritar ’’Mais depressa! Mais depressa!’’. Alice não podia ir mais depressa, embora mal tivesse fôlego para dizê-lo.
O mais curioso é que as árvores e tudo o mais em volta não parecia mudar em nada: por mais velozes que fossem, elas pareciam não sair do lugar ’’Será que todas as coisas estão se movendo ao nosso lado?” pensou, desconcertada, a pobre Alice. E a Rainha pareceu adivinhar seus pensamentos, pois gritou ‑ Mais depressa! Não fique falando à toa!
Mas falar como? Alice nem pensava nisso. Parecia-lhe que jamais seria capaz de falar outra vezde novo, de tal modo estava sem fôlego. E a Rainha continuava a gritar ’’Mais depressa! Mais depressa!’’, arrastando-a com força. – Já estamos perto? ‑ conseguiu Alice articular finalmente.
‑ Perto! – repetiu a Rainha. ‑ Ora, nós já passamos há dez minutos! Mais depressa!” ‑ Correram durante algum tempo em silêncio, o vento silvando nos ouvidos de Alice, e quase arrancando os seus cabelos, era a impressão que tinha.
‑Corre! Corre! ‑ gritava a Rainha. ‑ Mais depressa! Mais depressa! ‑ E iam tão velozes que finalmente pareciam deslizar pelos ares, quase sem tocar o solo com os pés, até que de súbito, justo quando Alice parecia morrer de cansaço, elas pararam. Alice viu-se sentada no chão, aturdida e sem fôlego.
A Rainha a recostou numa árvore e disse gentilmente: ‑ Você pode descansar um pouco agora.
Alice olhou em volta de si muito surpreendida. – Ora essa, acho que ficamos sob esta árvore o tempo todo! Está tudo igualzinho!
‑ Claro que está ‑ disse a Rainha. O que você esperava?
‑ Em nossa terra – explicou Alice, ainda arfando um pouco ‑ geralmente se chega noutro lugar, quando se corre muito depressa e durante muito tempo, como fizemos agora.
‑ Que terra mais vagarosa! ‑ comentou a Rainha. – Pois bem, aqui, veja, tem de se correr o mais depressa que se puder, quando se quer ficar no mesmo lugar. Se você quiser ir a um lugar diferente, tem de correr no mínimo duas vezes mais rápido do que agora.
75
Deixei de ler [críticas] há muito tempo, porque tem uma grande influência no trabalho de uma pessoa. Não tanto porque pode ser muito depressivo, e pode, mas principalmente quando há muitos elogios, quando se diz que algo é absolutamente maravilhoso… É um grande prazer, sim, mas torna-se complicado. Fico contente se sinto que alguém fala da peça e questiona porque é que é assim, porque é que se fez assim… Mas os elogios são contraproducentes, de certa maneira. É pela mesma razão que os meus bailarinos muitas vezes se queixam: não lhes estou sempre a dizer que a dança é muito bonita, ou que eles dançam bem, ou o que seja. Não. Falamos sempre de como é que se poderia fazer melhor. Da minha experiência, é verdade que já fiz elogios, algumas vezes – também, depende da pessoa, devo dizer – mas tenho a experiência de trabalhar com pessoas que querem fazer sempre melhor. E, às vezes, melhor do que uma coisa que já é absolutamente maravilhosa, que não tem melhor. Sinto que, quando lhe dizemos que está muito bonito e bem feito, é como se perdessem a inocência, como se não fosse possível recuperar essa sensação de algo tão bonito que é intocável, que não se chega lá. Porque passaram a saber que conseguem fazer, que são impressionantes. É fabuloso ter críticas ótimas, sim, mas pode ter este efeito perverso… O bom é bom, ponto. Para mim é muito importante manter essa linha, muito tênue, essa fronteira, para lá da qual as pessoas já sabem demasiado.
73
As ruas dessa cidade [Tóquio] não têm nome. Existe, sim, um endereço escrito, mas ele só tem valor postal, pois se refere a um cadastro (por bairros e por quadras nada geométricos) acessível apenas ao carteiro, não ao visitante: a maior cidade do mundo é praticamente inclassificada, os espaços que a compõem em detalhe são inominados. Essa obliteração domiciliar parece incômoda para aqueles que (como nós) foram habituados a decretar que o mais prático é sempre o mais racional (princípio segundo o qual a melhor toponímia urbana seria a das ruas-número, como nos Estados Unidos ou em Kyoto, cidade chinesa). Tóquio nos repete entretanto que o racional é apenas um sistema entre outros. Para que haja domínio do real (no caso, dos endereços), basta que haja sistema, ainda que esse sistema seja aparentemente ilógico, inutilmente complicado, curiosamente disparatado: sabemos que uma boa bricolagem pode não apenas durar por muito tempo, mas também satisfazer milhões de habitantes, aliás habituados a todas as perfeições da civilização tecnicista.
Esse anonimato é suplantado por certo número de expedientes (pelo menos é o que nos parece), cuja combinação forma sistema. Pode-se representar o endereço por um esquema de orientação (desenhado ou impresso), espécie de anotação geográfica que situa o domicílio a partir de uma referência conhecida, uma estação de trem, por exemplo (os habitantes são muito hábeis nesses desenhos improvisados em que vemos esboçar-se, às vezes num pedacinho de papel, uma rua, um prédio, um canal, uma estrada de ferro, uma placa, e que fazem da troca de endereços uma comunicação delicada, na qual se expressa uma vida do corpo, uma arte do gesto gráfico: é sempre saboroso ver alguém escrever, mais ainda, desenhar: de todas as vezes em que me comunicaram dessa maneira um endereço, guardo o gesto de meu interlocutor virando seu lápis para esfregar delicadamente, com a borrachinha que fica na outra extremidade, a curva exagerada de uma avenida, a entrada de um viaduto; apesar de a borracha ser um objeto contrário à tradição gráfica do Japão, desse gesto emanava algo de sereno, de acariciante e de seguro, como se, nesse ato fútil, o corpo “trabalhasse com mais reserva do que o espírito”, de acordo com o preceito do ator Zeami; a preparação do endereço se tornava muito mais interessante do que o próprio endereço, e, fascinado, eu teria desejado que demorassem horas a me dar esse endereço). Assim, mesmo conhecendo pouco o lugar aonde desejamos ir, é possível orientarmos o motorista de táxi de rua em rua. É possível também pedirmos ao motorista que ele mesmo se guie pelas indicações do longínquo dono da casa à qual somos convidados, por meio de um desses grandes telefones vermelhos instalados em quase todos os quiosques das ruas. Tudo isso faz da experiência visual um elemento decisivo da orientação: constatação banal se estivéssemos nos referindo a uma selva ou a um matagal, mas bem menos quando se trata de uma imensa cidade moderna, cujo conhecimento normalmente se dá pelo mapa, pelo guia, pela lista telefônica, em resumo, pela cultura impressa e não pela prática gestual.
Aqui, ao contrário, a domiciliação não se sustenta sobre nenhuma abstração; afora o cadastro, ela é pura contingência: muito mais factual que legal, ela deixa de ser a conjunção de uma identidade e de uma propriedade. Essa cidade só pode ser conhecida por uma atividade de tipo etnográfico: é preciso orientar-se não pelo livro ou endereço, mas pela caminhada, a vista, o hábito, a experiência; cada descoberta é intensa e frágil, e só poderá ser recuperada pela lembrança do traço que deixou em nós: visitar um lugar pela primeira vez é assim começar a escrevê-lo: como o endereço não está escrito, é preciso que ele mesmo funde sua própria escritura.
69
a)
Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho da sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também tem que evoluir constantemente. Isto significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Daí resulta que tenha de limpá-lo, e, como é a expressão da vida, sou eu o responsável por ele, pelo que devo constantemente umsorgen [cuidar dele, em alemão].
b)
Detesto a leitura. Tenho um tédio antecipado das páginas desconhecidas. Sou capaz de ler só o que já conheço. O meu livro de cabeceira é a Retórica do Padre Figueiredo, onde leio todas as noites pela cada vez mais milésima vez, a descrição, em estilo de um português conventual e certo, as figuras de retórica, cujos nomes, mil vezes lidos, não fixei ainda. Mas embala-me a linguagem […], e se me faltassem as palavras justas escritas com c dormiria inquieto.
68
Se em mim existe um talento digno de respeito, nesse caso eu lhe confesso, à sua pureza de alma, que não o respeitei até aqui. Sentia em mim esse talento, mas formara o hábito de julgá-lo medíocre […]
Durante os cinco anos de minha vagabundagem nos jornais, acostumei-me a considerar os meus trabalhos com desdém, e comecei a escrever a toda pressa! Esta é a primeira razão [de minha inteligência]. A segunda: sou médico e vivo mergulhado na medicina até o pescoço. O provérbio sobre as duas lebres que não podiam correr ao mesmo tempo não impediu ninguém de dormir tanto quanto eu… Até aqui tratei o meu trabalho literário com extrema leviandade, com negligência, sem refletir. Não me lembro de um só de meus contos sobre o qual me tenha debruçado mais de um dia e esse O Caçador que lhe agradou, escrevi-o numa casa de banhos! Como os jornalistas rabiscam seus textos, da mesma forma escrevo meus contos: maquinalmente, numa semi-inconsciência, sem me preocupar com o leitor nem comigo mesmo […]. Esforçava-me apenas para não usar nesses contos imagens e quadros que me são caros e que, Deus sabe por que, guardava zelosamente.
[…]
E eis que me cai do céu a sua carta […]. Senti então a necessidade absoluta de me deter, de sair da rotina em que me havia enterrado.
Vou livrar-me do trabalho precipitado, mas sem pressa. Não me é possível sair rapidamente do atoleiro em que me encontro. Prefiro, sim, passar fome, como já me aconteceu, mas não se trata apenas de mim […].
Toda a esperança está no futuro. Estou com 26 anos. Talvez ainda tenha tempo de fazer alguma coisa, embora o tempo passe tão depressa […].
Desculpe esta longa carta e seja condescendente com um homem que, pela primeira vez na vida, ousa conceder a si mesmo a alegria de escrever a Grigorovitch.
67
[…] a espera evidencia como o tempo é um recurso e uma fonte de poder. A espera é também uma condição à própria existência dos processos sociais e biológicos, dado que estes comportam um certo grau de entropia que a espera ajuda a dissipar. Assinalamos, assim, que a espera pode ser definida como um espaço-tempo específico, uma duração e um intervalo obrigatório, procurado ou aleatório. De qualquer forma, a espera expressa normas e convenções sociais que presidem à definição das reciprocidades e das sociabilidades, além de demonstrar formas de encarar os horizontes temporais (futuro e passado). Nesta perspectiva, a espera tanto pode sinalizar uma perda como um ganho para as mesmas partes envolvidas numa relação. É pertinente destacar o facto de a espera ser socialmente reproduzível e culturalmente constrangedora. Ao mesmo tempo, a espera é um ato de linguagem e objeto das várias ordens discursivas. Por isso, pode ser perspetivada como um instrumento importante de ação política, tanto na dimensão objectiva (dos planos), como na dimensão da esperança.
66
João Carlos Sobrinho, conhecido por todo mundo aqui como Fera, viu um dos ’’amigos de prancha’’ morrer em cima do asfalto por conta do tráfico. Daí para maquinar num caderninho como tirar essa juventude do crime foi um pulo: em 2 de fevereiro de 1995 criou a Escola Beneficente de Surfe Titãzinho.
No início as atividades eram simples e não havia muitas pranchas para a garotada entrar no mar e testar as manobras que treinavam na areia. Os humanistas e políticos de plantão também não tinham criado termos elegantes como “Responsabilidade Social”, sobretudo não havia a Secretaria da Juventude (Sejuv) para dar o modesto patrocínio de pranchas e pouco mais de R$ 300,00 mensais. Além do mais, naquele tempo surfar era coisa de malandro. ’’Muitas das pessoas daqui brincavam dizendo que eu era louco porque vivia agarrado toda hora escrevendo aulas de surfe num caderninho’’, lembra João Carlos.
’’Entre outros requisitos o surfe exige, de quem tem como objetivo se manter na crista da onda, sustentar a plena atenção, conhecer o movimento das marés, incluindo a geografia litorânea, aspectos relevantes do clima e do ar atmosférico local.’’
Fera confirma ser fundamental, no treinamento diário, aprender e exercitar na areia as manobras feitas dentro da água. ’’É importante ter tática para aprender mais rápido. Sempre digo para os meninos que é preciso muita vontade para ganhar a vida como surfista.’’ […]
65
a)
Muitos, pessoas ou povos, podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada “estrangeiro é um inimigo”. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente; manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas; não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o Campo de Extermínio. Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências com uma lógica rigorosa. A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos como sinistro sinal de perigo.
b)
Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria, e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem: para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso – nesse instante está sendo morto um inocente. Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato.
O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil: quero o terreno.