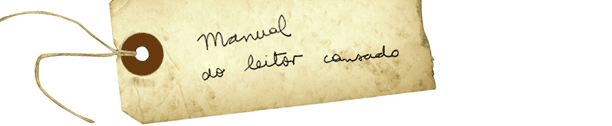As ruas dessa cidade [Tóquio] não têm nome. Existe, sim, um endereço escrito, mas ele só tem valor postal, pois se refere a um cadastro (por bairros e por quadras nada geométricos) acessível apenas ao carteiro, não ao visitante: a maior cidade do mundo é praticamente inclassificada, os espaços que a compõem em detalhe são inominados. Essa obliteração domiciliar parece incômoda para aqueles que (como nós) foram habituados a decretar que o mais prático é sempre o mais racional (princípio segundo o qual a melhor toponímia urbana seria a das ruas-número, como nos Estados Unidos ou em Kyoto, cidade chinesa). Tóquio nos repete entretanto que o racional é apenas um sistema entre outros. Para que haja domínio do real (no caso, dos endereços), basta que haja sistema, ainda que esse sistema seja aparentemente ilógico, inutilmente complicado, curiosamente disparatado: sabemos que uma boa bricolagem pode não apenas durar por muito tempo, mas também satisfazer milhões de habitantes, aliás habituados a todas as perfeições da civilização tecnicista.
Esse anonimato é suplantado por certo número de expedientes (pelo menos é o que nos parece), cuja combinação forma sistema. Pode-se representar o endereço por um esquema de orientação (desenhado ou impresso), espécie de anotação geográfica que situa o domicílio a partir de uma referência conhecida, uma estação de trem, por exemplo (os habitantes são muito hábeis nesses desenhos improvisados em que vemos esboçar-se, às vezes num pedacinho de papel, uma rua, um prédio, um canal, uma estrada de ferro, uma placa, e que fazem da troca de endereços uma comunicação delicada, na qual se expressa uma vida do corpo, uma arte do gesto gráfico: é sempre saboroso ver alguém escrever, mais ainda, desenhar: de todas as vezes em que me comunicaram dessa maneira um endereço, guardo o gesto de meu interlocutor virando seu lápis para esfregar delicadamente, com a borrachinha que fica na outra extremidade, a curva exagerada de uma avenida, a entrada de um viaduto; apesar de a borracha ser um objeto contrário à tradição gráfica do Japão, desse gesto emanava algo de sereno, de acariciante e de seguro, como se, nesse ato fútil, o corpo “trabalhasse com mais reserva do que o espírito”, de acordo com o preceito do ator Zeami; a preparação do endereço se tornava muito mais interessante do que o próprio endereço, e, fascinado, eu teria desejado que demorassem horas a me dar esse endereço). Assim, mesmo conhecendo pouco o lugar aonde desejamos ir, é possível orientarmos o motorista de táxi de rua em rua. É possível também pedirmos ao motorista que ele mesmo se guie pelas indicações do longínquo dono da casa à qual somos convidados, por meio de um desses grandes telefones vermelhos instalados em quase todos os quiosques das ruas. Tudo isso faz da experiência visual um elemento decisivo da orientação: constatação banal se estivéssemos nos referindo a uma selva ou a um matagal, mas bem menos quando se trata de uma imensa cidade moderna, cujo conhecimento normalmente se dá pelo mapa, pelo guia, pela lista telefônica, em resumo, pela cultura impressa e não pela prática gestual.
Aqui, ao contrário, a domiciliação não se sustenta sobre nenhuma abstração; afora o cadastro, ela é pura contingência: muito mais factual que legal, ela deixa de ser a conjunção de uma identidade e de uma propriedade. Essa cidade só pode ser conhecida por uma atividade de tipo etnográfico: é preciso orientar-se não pelo livro ou endereço, mas pela caminhada, a vista, o hábito, a experiência; cada descoberta é intensa e frágil, e só poderá ser recuperada pela lembrança do traço que deixou em nós: visitar um lugar pela primeira vez é assim começar a escrevê-lo: como o endereço não está escrito, é preciso que ele mesmo funde sua própria escritura.